CARTA ABERTA DA DIOCESE DE UBERLÂNDIA SOBRE A SITUAÇÃO DOS SEM TETO NO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA “A solidariedade é uma reação espontânea de quem reconhece a função social da propriedade e o destino universal dos bens como realidades anteriores à propriedade privada. A posse privada dos bens justifica-se para cuidar deles e aumentá-los de modo a servirem melhor o bem comum, pelo que a solidariedade deve ser vivida como a decisão de devolver ao pobre o que lhe corresponde. Estas convicções e práticas de solidariedade, quando se fazem carne, abrem caminho a outras transformações estruturais e tornam-nas possíveis. Uma mudança nas estruturas, sem se gerar novas convicções e atitudes, fará com que essas mesmas estruturas, mais cedo ou mais tarde, se tornem corruptas, pesadas e ineficazes.” (Papa Francisco – Exortação Apostólica Evangelii Gaudium n. 189) Com este espírito de solidariedade e de bem comum, a Diocese de Uberlândia, se dirige ao povo e às autoridades dos poderes executivo, legislativo e judiciário, em vista da urgente necessidade de moradia, que aflige milhares de famílias, em Uberlândia. Mesmo reconhecendo que o programa de moradia popular, “Minha Casa, Minha Vida”, é uma importante resposta ao déficit habitacional, temos que reconhecer a sua incapacidade em resolver a demanda. Considerando que: a Doutrina Social da Igreja afirma: “sobre toda propriedade privada pesa uma hipoteca social”; as muitas áreas no município de Uberlândia se encontram com registros duvidosos ou sobrepostos; a existência de 42.666 inscritos em programa habitacional (Secretaria Municipal de Habitação de Uberlândia - 08/08/2013) e que existem cerca de 12 mil famílias (Comissão Pastoral da Terra) vivendo em 20 acampamentos de sem teto no município de Uberlândia; o fato de que os despejos deixam famílias desalojadas e em situação de vulnerabilidade e não resolvem o problema habitacional; o direito à moradia está consolidado no artigo 6º da Constituição Brasileira, tendo como núcleo básico o direito de viver com segurança, paz e dignidade, podendo, somente com a observância destes três elementos considerar-se plenamente satisfeito; as áreas ocupadas ficam descriminadas em relação aos serviços públicos, ferindo a dignidade humana e a cidadania das famílias sem teto. Clamamos: Pelo reconhecimento dos sem teto como titulares do direito à moradia, não podendo ser discriminados em razão da origem social, posição econômica, origem étnica, sexo, raça ou cor, devendo ser reconhecidos seus direitos às políticas públicas, bem como aos serviços públicos em seus acampamentos. Pela regulamentação das atividades do setor privado, evitando a especulação imobiliária, bem como a instituição dos instrumentos jurídicos e urbanísticos de regularização fundiária para reconhecer o direito à moradia das populações que vivem nos assentamentos informais, através da instituição de leis sobre política urbana e habitacional. Pela desapropriação ou negociação de áreas, por necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, para assentamento de famílias sem teto. Pelo direito à participação das famílias mais vulneráveis na definição de qualquer projeto estratégico para a cidade, em especial, no território que ocupam. Pelo entendimento de que os despejos forçados e demolições de domicílio como medida punitiva contrariam as normas nacionais (Constituição Federal, Estatuto da Cidade) e internacionais de que o Brasil é signatário (Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, Convenção de Genebra de 1949, Protocolos de 1977). Neste Natal, lembremo-nos de Maria e José, sem teto, na noite fria de Belém. Não tinham aonde ficar, e tiverem que ocupar um local para que Jesus pudesse nascer, com um mínimo de abrigo. Que o espírito do presépio nos leve à solidariedade e à ações concretas, pelo direito à moradia de nossos irmãos e irmãs sem teto. Uberlândia, 19 de dezembro de 2013 Dom Paulo Francisco Machado Bispo Diocesano de Uberlândia
Mostrando postagens com marcador Ocupação. Mostrar todas as postagens
Mostrando postagens com marcador Ocupação. Mostrar todas as postagens
quinta-feira, 26 de dezembro de 2013
quarta-feira, 13 de novembro de 2013
Substantivos femininos: mulher, moradia e luta
Carolina Freitas, do blogueirasfeministas.com


A moradia é basilar em qualquer processo de democratização do espaço urbano. A moradia, a casa, é o lugar em que se dá a reprodução da família, mas, mais do que isso, é o espaço privado de segurança dos indivíduos. É a garantia mínima de território afirmativo dos grupos humanos.
A respeito do território, a diferença entre homens e mulheres no que diz respeito à titularidade de imóveis registrados é brutal. A propriedade privada, sedimentada na realidade das classes médias e altas, não acontece formalmente para os trabalhadores. As relações informais de compra e venda de terrenos, os alugueis e as ocupações são as formas mais frequentes com que se assentam as pessoas na cidade.
As mulheres pobres são frequentemente as maiores atingidas pela leva diária de despejos ocorridos na cidade de São Paulo. Seja porque são as chefas da família em que não existe uma figura masculina, seja porque são trabalhadoras na própria casa. São elas que assumem a responsabilidade de proteger os filhos da perda de um teto e de pertences essenciais, adquirindo uma necessária postura criativa perante os desafios financeiros, seja distribuindo a prole na casa de conhecidos e outras parentes, resignando-se a dormir e viver na rua, seja aumentando ainda mais as suas jornadas de trabalho para poder prover com rapidez um outro espaço onde morar.
Perante essa realidade, pouco faz o Estado. Novamente, sua relação dependente da iniciativa privada o move para a administração de programas habitacionais que não contemplam a mais grossa e verdadeira demanda de moradia urbana. Em contrapartida, atendem com precisão o interesse dos especuladores imobiliários.
Muitas mulheres, por serem trabalhadoras informais, não conseguem acesso aos cadastros porque não correspondem ao perfil de adimplência dos financiamentos. Além disso, os programas da vez, como o Minha Casa, Minha Vida, do governo federal, não atende sistemicamente a população mais pobre, voltando-se preponderantemente às classes médias.
Muito se comemorou a mudança da Lei 11.977, que regulamenta o programa Minha Casa, Minha Vida, no que diz respeito à transferência da titularidade do financiamento para o nome da mulher responsável pela família. Outra questão é a medida provisória que garante a casa financiada à mulher em caso de divórcio ou dissolução da união estável. Sabe-se que quase 90% dos contratos de financiamento constam como titulares as mulheres.
Esse dado demonstra efetivamente a massiva e crescente chefia feminina dos lares, mas não aponta como avanço em direção a um projeto democrático de cidade. O aporte do Poder Público para a construção das casas é imenso e a lucratividade é distribuída às empreiteiras envolvidas. A política de habitação torna-se, assim, um segmento de mercantilização.
Esse mercado de moradia popular vem se tornando foco das parcerias entre governos e corporações, pois conciliam interesses compartilhados mutuamente: de um lado, substituem-se as políticas públicas e a organização da demanda formulada pelo próprio povo e, por outro, atende-se a taxa de lucros e dividendos políticos para a manutenção de uma relação estável com as empresas privadas e com o eleitorado:
“O perfil de atendimento previsto pelo pacote revela, porém, o enorme poder do setor imobiliário em dirigir os recursos para a faixa que mais lhe interessa. O déficit habitacional urbano de famílias entre três e 10 salários mínimos corresponde a apenas 15,2% do total, mas receberá 60% das unidades e 53% do subsídio público.
Essa faixa poderá ser atendida em 70% do seu déficit, satisfazendo o mercado imobiliário, que a considera mais lucrativa. Enquanto isso, 82,5% do déficit habitacional urbano concentra-se abaixo dos três salários mínimos, mas receberá apenas 35% das unidades do pacote, o que corresponde a 8% do total do déficit para esta faixa. No caso do déficit rural, a porcentagem é pífia, 3% do total. Tais dados evidenciam que o atendimento aos que mais necessitam se restringirá, sobretudo, ao marketing e à mobilização do imaginário popular” .(1)
Sabe-se que a destinação da titularidade às mulheres em muito se refere ao fato de representar um perfil social de maior fidelidade ao contrato e de responsabilidade com a manutenção do entorno. Nesse sentido, fica claro que as mulheres são, novamente, objeto de interesse do conluio do Estado e do capital, mas não sujeitos que definem suas prioridades políticas. Atravessam o espaço público, mas não o definem por vontade da ordem.
Substantivos Femininos: Mulher e Luta
A saída das mulheres negras e trabalhadoras para os desafios e sinucas de bico da vida urbana compreende muitas vezes o seu protagonismo nas lutas sociais. As ocupações de terra, por exemplo, são experiências da classe trabalhadora em que as mulheres sistematicamente assumem a linha de frente: são elas que respondem pela construção dos barracos, pelo levantamento e manutenção da estrutura básica de sobrevivência da ocupação e, ainda, pelo enfrentamento direto com a polícia.
Dentro dos movimentos populares organizados, é nítida a reprodução do machismo nas relações políticas. Frequentemente se observa que as mulheres assumem tarefas fundamentais de organização, cadastro, alimentação, comunicação, entre outras, mas os momentos públicos, como as assembleias e reuniões, são tomados pelas falas e direções masculinas.
Mesmo assim, é inegável que nos setores populares organizados o papel da mulher é redimensionado. É diferenciado em relação ao seu papel ordinário na sociedade, até porque o povo se movimenta a partir das contradições da sua realidade mais primordial, a partir do cotidiano e do enfrentamento da sobrevivência. Essa sobrevivência sempre é garantida pelo papel desempenhado pelas mulheres. Quando se eleva questões materiais de resistência da vida humana à esfera política, eleva-se também os sujeitos dessa luta diária ao espaço político, descola a prática privada à prática pública.
Por esse viés, pode-se afirmar que a luta pela tomada da cidade pelo povo é uma luta travada, inegavelmente, em razão das próprias contradições sexistas dominantes do capitalismo, pelo levante e pela ação das mulheres trabalhadoras, negras e periféricas.
quarta-feira, 21 de agosto de 2013
OCUPAR E INVADIR
Artigo publicado em 2011 e continua atualissimo.
- Por Joao Paulo Cunha, editor de Cultura do Jornal Estado de Minas, Caderno Pensar, 19/11/2011.
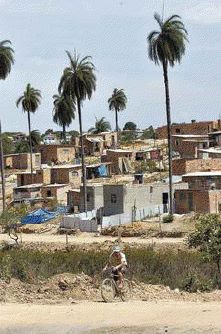 As palavras não são isentas, trazem carga emocional e política, traduzem visões de mundo. O recente movimento Occupy Wall Street parece ter dado novo sentido à palavra ocupação. Se num país, que sempre foi modelo ideológico de liberdade, a população – principalmente os jovens – está nas ruas ocupando praças e centros simbólicos do poder econômico, há algo que precisa ser melhor entendido. Em primeiro lugar, a liberdade que serve aos propósitos econômicos não tem a mesma tradução quando se trata de manifestação política. Além disso, a ausência de padrão de convivência com as pessoas na rua mostra que a dimensão pública não é uma experiência corrente na sociedade em que privatizar é um juízo moral positivo. Por fim, a exposição pública de discordância deixa de ser pontual para ir ao coração do sistema. Não dá mais para esperar o show da próxima eleição presidencial.
As palavras não são isentas, trazem carga emocional e política, traduzem visões de mundo. O recente movimento Occupy Wall Street parece ter dado novo sentido à palavra ocupação. Se num país, que sempre foi modelo ideológico de liberdade, a população – principalmente os jovens – está nas ruas ocupando praças e centros simbólicos do poder econômico, há algo que precisa ser melhor entendido. Em primeiro lugar, a liberdade que serve aos propósitos econômicos não tem a mesma tradução quando se trata de manifestação política. Além disso, a ausência de padrão de convivência com as pessoas na rua mostra que a dimensão pública não é uma experiência corrente na sociedade em que privatizar é um juízo moral positivo. Por fim, a exposição pública de discordância deixa de ser pontual para ir ao coração do sistema. Não dá mais para esperar o show da próxima eleição presidencial.
- Por Joao Paulo Cunha, editor de Cultura do Jornal Estado de Minas, Caderno Pensar, 19/11/2011.
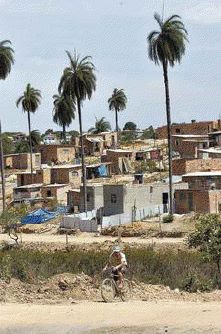 As palavras não são isentas, trazem carga emocional e política, traduzem visões de mundo. O recente movimento Occupy Wall Street parece ter dado novo sentido à palavra ocupação. Se num país, que sempre foi modelo ideológico de liberdade, a população – principalmente os jovens – está nas ruas ocupando praças e centros simbólicos do poder econômico, há algo que precisa ser melhor entendido. Em primeiro lugar, a liberdade que serve aos propósitos econômicos não tem a mesma tradução quando se trata de manifestação política. Além disso, a ausência de padrão de convivência com as pessoas na rua mostra que a dimensão pública não é uma experiência corrente na sociedade em que privatizar é um juízo moral positivo. Por fim, a exposição pública de discordância deixa de ser pontual para ir ao coração do sistema. Não dá mais para esperar o show da próxima eleição presidencial.
As palavras não são isentas, trazem carga emocional e política, traduzem visões de mundo. O recente movimento Occupy Wall Street parece ter dado novo sentido à palavra ocupação. Se num país, que sempre foi modelo ideológico de liberdade, a população – principalmente os jovens – está nas ruas ocupando praças e centros simbólicos do poder econômico, há algo que precisa ser melhor entendido. Em primeiro lugar, a liberdade que serve aos propósitos econômicos não tem a mesma tradução quando se trata de manifestação política. Além disso, a ausência de padrão de convivência com as pessoas na rua mostra que a dimensão pública não é uma experiência corrente na sociedade em que privatizar é um juízo moral positivo. Por fim, a exposição pública de discordância deixa de ser pontual para ir ao coração do sistema. Não dá mais para esperar o show da próxima eleição presidencial.
O que os jovens de várias partes do mundo têm mostrado é que a ilusão do futuro ruiu. A crise nas economias ricas, com a diminuição do crescimento, parece mostrar que as bases da economia mundial não se sustentam mais. As pessoas perceberam que, mesmo que façam tudo como manda o figurino, nada está garantido. A mutipolarização do mundo impede que as dificuldades sejam hoje exportadas. Durante décadas, as regras do mercado não davam aos países periféricos condições de igualdade, o que fazia deles válvulas de escape dos distúrbios centrais. Hoje, com mercados internos fortes e alianças que passam ao largo das grandes economias, os países pobres e em desenvolvimento precisam se dar conta das próprias expectativas de crescimento e liberdade.
Outro fato que vai se tornando cada vez menos aceito é a tradução financeira da economia, como se a garantia a ser dada aos bancos e instituições insolventes fosse indispensável à saúde de todo o sistema. Bancos passaram a ser vistos como de fato são: vendedores de crédito e cobradores de juros. E, muitas vezes, incompetentes, quando não criminosos, nas duas operações: vendem o que não possuem e cobram além do razoável. Se por muito tempo as pessoas projetaram pôr o dinheiro para trabalhar a seu favor, hoje sabem que nada substitui a produção. Não é à toa que o emprego e a educação se tornaram os grandes ativos de confiabilidade no mundo líquido.
Outro mito que cai com a crise da economia é a atração magnética entre democracia e desenvolvimento. O mundo ocidental patrocinou as mais cruentas ditaduras contemporâneas para preservar sua estrutura de ganhos. Escravizou populações para preservar o suprimento de petróleo e, quando a crise extrapolou a dimensão meramente energética e se revelou na contramão de movimentos internos de liberdade, comemorou a libertação de “seus” ditadores e ainda inventou que tudo só foi possível por causa do Facebook. As democracias ocidentais estão na origem das ditaduras do Oriente Médio e Norte da África, e não no seu desenlace.
Quando os jovens americanos e europeus ocupam praças e ruas estão dando um passo à frente, mas não inovam em termos de atitude política. Ao sul do planeta, as ocupações são estratégias de sobrevivência e contestação ao modelo de concentração econômica. E não é de hoje. Por isso é interessante entender a dialética que parece opor palavras como ocupação e invasão. Atrás delas estão visões de mundo e interesses que apontam para formas também diferenciadas de se praticar a política e o protagonismo social. Entre os gringos de Nova York e os sem casa de Belo Horizonte, há um mesmo gesto de contestação: só a representação não basta. No limite, a possibilidade de conviver com a participação direta é o índice de democracia de um Estado liberal.
Sem tudo
No Brasil, o significante “invasão” se relaciona com o crime, com o desrespeito à propriedade privada, com a apropriação de bem demarcado em sua posse e sentido econômico. Os invasores tomam o que não é deles, destroem a produção, impedem a aplicação da lei e subvertem a noção de Justiça. O invasor é elemento que desestrutura aquilo que é funcional: derruba pés de laranja, quer trocar milhões de toneladas de grãos por uma feira de produtos orgânicos, estabelece padrões de produção que não atendem às necessidades externas.
A força da palavra invasão encontra, no entanto, limites na própria interpretação da lei, que defende, constitucionalmente (portanto acima de qualquer norma inferior) o valor social da propriedade. Além disso, a produção extensiva de carne e grãos no Brasil conflita não apenas com a lógica da necessidade de alimentar a população (o que a soja transgênica não faz, já que ninguém se alimenta de soja, a não ser carneiros e porcos), mas com a própria ciência contemporânea e as diretrizes da sustentabilidade.
Foi em razão disso que os movimentos sociais, preocupados com a dimensão simbólica das palavras e de sua tradução na vida social, assumiram a palavra “ocupação”, em lugar de invasão. Quem ocupa tem como fundamento de seu ato a legalidade, a moralidade, a ciência e a política, todas no sentido mais alto: legalidade constitucional, moralidade pública, ciência contemporânea e política como expressão da liberdade, inclusive com a capacidade de assumir formas novas de relacionamento e prestação de serviços (como a educação, que são prioridade nos assentamentos). Os sem terra brasileiros já fazem o movimento “ocupe” há muitos anos e, não fosse isso, a estrutura inflexível das relações no campo não teria se mexido.
Em nossa cidade, Belo Horizonte, um movimento de ocupação que merece destaque. Na região da Nova Pampulha, o Dandara reúne cerca de 4 mil pessoas, que vivem numa ocupação “rururbana”, em área desprezada há 40 anos, e que só agora vem despertando o interesse de uma construtora que reclama sua posse, depois de deixar a área abandonada e sem qualquer forma de proteção. Organizada, com vários projetos fundados na solidariedade, a comunidade aponta para o déficit habitacional da cidade, hoje em torno de 200 mil unidades (cerca de 55 mil famílias). A cidade tem 80 mil imóveis desocupados. A desapropriação do Dandara custa menos que um décimo das obras da Copa. E não deveria custar nada. O movimento vem sendo tratado com violência pelas autoridades, sendo sujeito de estratégias recorrentes de ameaça de uso da força.
Uma das originalidades da ocupação é a união dos princípios das reformas agrária e urbana na mesma área. Hoje, a reforma agrária vai além da luta pela posse da terra para reivindicar novo modelo de produção de alimentos, sustentável e ecológico, apontando para bandeiras universais. Do mesmo modo, os movimentos por moradia despertaram para a crítica da configuração urbana e de suas estratégias de especulação. Ao recorrer a um projeto coletivo, com sustentação na economia solidária e na relação orgânica com outras formas de exercício da cidadania (inclusive na cultura), a ocupação Dandara pode dar lições aos bem-intecionados jovens de Wall Street.
As famílias na ocupação Dandara sabem o que querem, mas vivem em situação de penúria. O que parece que anda faltando é ocupação das consciências dos responsáveis pela questão, como a Câmara e a prefeitura da cidade, solertes em debater a verticalização mas cegas com o que anda ao rés do chão.
*João Paulo Cunha, editor de Cultura do Jornal Estado de Minas.
- Enviada por Gilvander Moreira, frei Carmelita.
Assinar:
Postagens (Atom)
